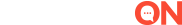AluCine – QUANDO ÉRAMOS DEUSES
Quando Éramos Deuses – Por Lupe Romero
Um dia meu pai chegou em casa, nos idos de 86
E da porta ele gritou orgulhoso: Agora chegou a nossa vez!
Eu vou ser o maior, comprei um VIDEOCASSETE!
Ao que todos nos entreolhamos com clara interrogação sobrevoando nossas cabeças:
– E o que é isso?
– É o futuro! Um aparelho que permite que a gente assista filmes! – disse ele empolgado.
Minha mente intrigada me fez lançar um olhar simpático para a televisão. Afinal, ali assistíamos filmes. Para que aquela geringonça?
– … mas não é só isso! – meu pai emendou, guardando o melhor para o final – São os filmes que nós quisermos, na hora em que quisermos!
– Uau!
– E tem mais! Podemos ver, voltar, rever, colocar em câmera lenta…
E ele foi descrevendo as maravilhas que aquele aparelho fazia e eu comecei a sentir um poder imenso dentro de mim. Acho que todos sentimos no momento. Era o poder sobre as escolhas, estávamos livres da ditadura impositiva da grade de programação da TV! Era o poder sobre o tempo: avançar, retroceder… PAUSAR! Daí o sentimento evocado no título poético que encabeça essa coluna, “Quando Éramos Deuses”, que roubei respeitosamente do premiado documentário de 1996.
Já, ainda em 1986, em casa, meu pai cuidadosamente desembalou o aparelho e o colocou sobre a estante. Era realmente o futuro. Fino e largo, algo achatado. Possuía um visor que quando ligado na tomada, exibia um relógio digital verde. A frente era cinza, dando um ar sofisticado que me lembrava os itens futurísticos dos Jetsons. Abrimos uma portinha que ficava na parte de baixo e lá estavam eles: os botões de controle do tempo. Havia também um botão vermelho escrito “REC”, que eu descobriria ser muito útil mais pra frente e um outro botão de girar, “Tracking”. Perguntei:
– O que é isso?
– Um ajuste! – disse meu pai.
– Ajuste de quê?
– Do filme, oras!
E foi isso, respondidas as questões da criança pentelha ficamos ali admirando o equipamento. Silêncio completo. Um minuto se passou. Embasbacados creio que esperávamos alguma reação da modernidade à nossa frente. Outro minuto se foi e, ao longo de um bom tempo de espera o espanto foi dando lugar à dúvida:
– Tem razão! É um belo relógio esse aí que você comprou… – disse minha mãe.
Não tínhamos ideia de como ir adiante com tanta inovação.
No dia seguinte, era um sábado e meu pai, que havia conversado com algumas pessoas, estava novamente super empolgado! Ele não nos contou o segredo, apenas agiu: enfiou a família toda no carro e fomos até a videolocadora. De onde voltamos com nada menos do que oito filmes para assistirmos em apenas dois dias.
Meu pai fazia ligações e convidava tios, tias, meus primos, minha avó! Era um acontecimento, um evento de proporções épicas! Ninguém na vizinhança tinha um videocassete. Ninguém na família tinha um videocassete. Estávamos surfando na crista da onda.
Dos oito filmes escolhidos, me recordo apenas de dois. O primeiro, que inaugurou tudo, foi algum filme daqueles japoneses do Godzilla, em que pessoas vestidas em fantasias de monstros trocam sopapos sobre uma cidade feita de papelão. As pessoas que meu pai havia convidado iam chegando e se aglomerando na sala, incrédulas. E, como demonstração, parávamos o filme, voltávamos cenas. Eu já tinha intimidade total com o controle remoto e controlava todos os aspectos daquele mundo exibido em tela. Os mais velhos se sentavam no sofá, as crianças iam ficando pelo chão, encostadas nas pernas dos adultos e também umas nas outras. Eu sentava o mais próximo possível do videocassete, como um maquinista que conduz a viagem. Ou um ilusionista que faz levitar a assistente de palco e espera com um largo sorriso os aplausos dos atônitos presentes.
O fim de semana todo foi nessa mesma toada. Pipoca saindo a toda hora. Um filme atrás do outro. Um cafezinho da tarde e alguma discussão sobre qual seria a próxima obra cinematográfica a ser apreciada. Realmente: o filme que queríamos e quando queríamos! O êxtase da classe média!
Ao final do domingo, todos foram se despedindo e indo embora (alguns primos até tinham dormido em casa para não perder um minutinho da novidade) e eu me vi só, à noite, frente a frente com o aparelho e nas mãos uma cópia de “O Feitiço de Áquila” (1985).
O filme trata sobre um bispo que lança um feitiço sobre um cavaleiro e sua amada: ele toda noite é transformado em um lobo e ela, durante o dia, vive transformada em uma águia. Tudo isso para que nunca pudessem estar juntos como homem e mulher. Adicione à trágica história o fato de serem os últimos momentos do final de semana mágico, e a iminência da segunda feira e todas as mazelas que essa informação carregava. O filme adquiriu um tom amargo, pesado. Eu o assistia com uma alta dose de melancolia e tristeza. Isso se grudou ao filme de forma permanente. Nunca mais assisti a “O Feitiço de Áquila”, e creio que nunca mais o farei novamente. Apenas falar sobre o filme já me causa mal estar, e a lembrança exata desse sentimento de finitude, da certeza de que tudo acaba um dia e que os sonhos não são eternos.
Deu-se início a uma regra que mantive por muitos e muitos anos: apenas assistir a filmes, ou peças de teatro, ou ouvir um álbum em um domingo até, no máximo, seis horas da tarde. Depois disso ficava terminantemente proibido, por mim, apreciar qualquer obra artística pois essa ganharia como viés, atrelada a ela, o ranço da derrota e da incapacidade de mudar certas coisas. A partir daquela hora determinada eu, como as personagens do filme, também sofria de uma maldição e me transformava, mas no meu caso era em um verme.
Texto: Lupe Romero é atriz, musicista, performer e escritora.