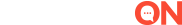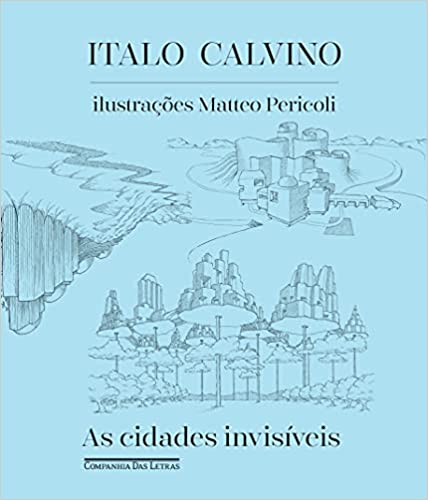A CIDADE INVISÍVEL
Pego carona no título do livro de Ítalo Calvino “As Cidades Invisíveis” para dar um giro pela minha, não mais completamente visível, apagada por entulho e aterro.
Há uns anos atrás, ciceroneando três amigas francesas pelo Centro do Rio – a mais nova com 5 anos, filha e neta das outras duas –, me entusiasmei e comecei a contar, na língua delas, um pouco sobre a história da cidade, iniciada naqueles arredores da Praça XV. Foi um certo misturar de sílabas, de tropeçar em “c´était une fois” e “ils ont venu”, mas fui me virando como pude. Lá pelas tantas, passando pelos trilhos da rua Sete de Setembro que viriam a dar lugar depois ao VLT – Veículo Leve Sobre Trilhos – e explicando a elas do que se tratava, a menina disse:
– Il sait tout.
Como não entendi, até porque foi francês ciciado à altura de meu umbigo, a mãe repetiu em bom português ao meu ouvido:
– Ela disse que você sabe tudo.
Não, Chiara, je ne sais tout. Eu sou apenas um curioso sobre a história da minha cidade que vai amealhando, aqui e ali, fragmentos de informações achadas nos livros. Outro dia mesmo deparei com um em banca de camelô: “O Rio no Tempo do Onça”, de Alexandre Passos, numa edição de 1965 – que comprei e devorei como quem come um bombom. E descobri também que existe um chamado “O Encilhamento”, do Visconde de Taunay – companheiro de chá do meu bisavô escritor Luiz Murat na então recém-fundada por eles e outros Academia Brasileira de Letras – que fala sobre o período de oscilação econômica na Primeiríssima República de 1890.
Minha avó, que se casou com o filho do escritor famoso – à sua época – e que também era escritor, nasceu em 1909 e morreu em 1994. Chamava-se Luzia – porque nasceu no dia da santa, 13 de dezembro – e talvez, quem sabe, porque fosse frequentar a praia homônima. A praia de Santa Luzia, com a sua ermida dos tempos coloniais que daria lugar à igreja, era uma opção de lazer para quem morava no Centro. E quase todo mundo morava – no Centro ou nos subúrbios. Na época, ir a Copacabana, Ipanema, Leblon, era como se aventurar numa jornada inóspita. Eram areais sem fim, com o Corcovado pelado sem o Cristo e o Pão de Açúcar sem bondinho. Mas já lá estava a Praia da Saudade, na Urca, onde hoje é o Iate Clube.
(Saudade da praia com o nome do sentimento que não conheci; ficou na saudade.)
A de Santa Luzia se espraiava silenciosa e salgada ao pé do Morro do Castelo. Em 1922, com o famoso desmonte, foi construída a Esplanada e seus ministérios, mas ainda era possível pegar um solzinho e minha avó certamente estava lá, de maiô-calção e sombrinha. Mas na década de 1940, com a ampliação do aterro para a construção do aeroporto Santos Dumont, o que era areia, viu-se asfalto, e onde antes uma moça se banhava, agora um guardador de carros senta-se ao meio-fio para descansar. Só a igreja, incólume, permanece.
Nunca conversei – que eu me lembre – com minha avó sobre esse período da cidade e sua geografia agora invisível. Acho que meu interesse sobre o tema foi posterior à sua morte. O pouco que sei dessas memórias de família entrelaçadas às da cidade é minha mãe que conta.
Em 1936, minha avó saiu do subúrbio e foi morar no Arpoador, na casa do irmão mais velho, já que ficara viúva tão jovem e com duas filhas pequenas. Minha mãe cresceu sereia do Posto 6, frequentemente seguida pelas ruas desertas, em uma época em que rapazes seguirem moças pelas ruas era comum como se adentrar um terreno baldio para se chupar fruta do pé. A caminho do colégio, ela passava e via o Drummond à janela da casa que agora é prédio. Tudo então era promessa de futuro, presente com gosto de passado.
Os entulhos dos morros derrubados serviram para aterrar as lagoas muito antes que essas histórias de minha família acontecessem. A do Boqueirão foi aterrada com entulho do desmonte de um morro para dar lugar ao Passeio Público. No Largo da Carioca também havia uma. Sob os Arcos da Lapa, outra. Onde hoje está o Circo Voador e seus boêmios ávidos de show, antes nadavam peixes.
Sempre que posso, caminho pelo Centro imaginando a cidade que não existe mais. Do Morro do Castelo, sobrou um resto de ladeira dando pra lugar nenhum atrás da Santa Casa – imponente prédio que até hoje ocupa o seu quarteirão. A Ladeira da Misericórdia – como é conhecida – é como um resto de cenário onde um dia houve um filme. A gente sobe, e uma hora tem de voltar, porque o caminho se interrompe. O Morro, invisível, lá do alto, nos espreita.
Toda cidade tem a sua cópia dupla, a sua cópia em back up, salva na nuvem.
***
“Os antigos construíram Valdrava à beira de um lago. O viajante, ao chegar, depara-se com duas cidades: uma perpendicular sobre o lago e outra refletida de cabeça pra baixo. Nada acontece na primeira que não se repita na segunda. Os habitantes sabem que todos os seus atos são simultaneamente aquele e a sua imagem especular, e essa coincidência impede-os de abandonar-se ao acaso e ao esquecimento. Quando os amantes com os corpos nus rolam pele contra pele à procura da posição mais prazerosa ou quando os assassinos enfiam a faca nas veias escuras do pescoço e quanto mais a lâmina desliza entre os tendões mais o sangue escorre, o que importa não é tanto o acasalamento ou o degolamento, mas o acasalamento e o degolamento de suas imagens límpidas e frias no espelho. Às vezes, o espelho aumenta o valor das coisas, às vezes anula. Nem tudo o que parece valer acima resiste a si próprio refletido. As duas Valdradas vivem uma para a outra, olhando-se nos olhos continuamente, mas sem se amar.” (“As Cidades Invisíveis”, Ítalo Calvino, tradução de Diogo Mainardi, texto condensado)
Rodrigo Murat é escritor